Descrição
Apresentação
Nove anos após a publicação de Órfãos do Eldorado, Milton Hatoum retorna à forma da narrativa longa em uma série de três volumes na qual o drama familiar se entrelaça à história da ditadura militar para dar à luz um poderoso romance de formação. Nos anos 1960, Martim, um jovem paulista, muda-se para Brasília com o pai após a separação traumática deste e sua mãe. Na cidade recém-inaugurada, trava amizade com um variado grupo de adolescentes do qual fazem parte filhos de altos e médios funcionários da burocracia estatal, bem como moradores das cidades-satélites, espaço relegado aos verdadeiros pioneiros da capital federal, migrantes desfavorecidos.
Às descobertas culturais e amorosas de Martim contrapõe-se a dor da separação da mãe, de quem passa longos períodos sem notícias. Na figura materna ausente concentra-se a face sombria de sua juventude, perpassada pela violência dos anos de chumbo. Neste que é sem dúvida um dos melhores retratos literários de Brasília, Hatoum transita com a habilidade que lhe é própria entre as dimensões pessoal e social do drama e faz de uma ruptura familiar o reverso de um país cindido por um golpe.
A editora disponibiliza um trecho como degustação em pdf, mas você também pode lê-lo logo abaixo.
Trecho da obra
Inverno e silêncio. Nenhuma carta do Brasil.
Paris, dezembro, 1977
Cidade gelada, nem sempre silenciosa: algazarra de turistas na travessia de uma ponte sobre o Sena. Somos do mesmo país, andamos para margens opostas. Essas gargalhadas e vozes são verdadeiras?
Hoje, em Neuilly-sur-Seine, meu aluno francês me ofereceu café e quis conversar um pouco sobre o Brasil. O bate-papo, de início besta, aos poucos rondou um assunto mais cabeludo, que logo ficou grave; para ir da gravidade ao terror político bastaram duas xícaras de café e uns biscoitos. No fim, meu aluno, mudo, pagou os quarenta francos da aula e me deu dez de gorjeta. Foi o lucro desta tarde fria e cinzenta.
Embolsei os francos e caminhei pelo Bois de Boulogne: árvores sem folhas, uma fina camada de gelo no solo, canto de pássaros invisíveis. A quietude foi assaltada por lembranças de lugares e pessoas em tempos distintos: Lázaro e sua mãe no barraco de Ceilândia, a voz do Geólogo no campus da Universidade de Brasília, a aparição de uma mulher no quarto de um hotel em Goiânia, o embaixador Faisão recitando versos de um poeta norte-americano: “Apenas mais uma verdade, mais um/ elemento na imensa desordem de verdades…”.
Outro dia vi o rosto de Dinah, segui esse rosto e deparei com uma francesa, que se surpreendeu com o meu olhar; outros rostos brasileiros apareceram em museus, na entrada de um cinema em Denfert, nas feiras da cidade.
Peguei o metrô até Châtelet, toquei violão no subterrâneo abafado e me lembrei das lições de música da Cantora. Não ouvi a língua portuguesa na plataforma nem nos corredores, peguei as moedas na capa do violão e andei pelo Marais até o Royal Bar. Um conhaque. Abri meu caderno de anotações e esperei meus três amigos, brasileiros. Marcamos às sete da noite.
Pessoas encapotadas passam na calçada da Rue de Sévigné, vozes enchem o Royal Bar, lá fora um saltimbanco atravessou o ar gelado e pediu uma moeda a uma mulher.
Oito e quinze da noite. Damiano Acante, Julião e Anita furaram.
Nem tudo é suportável quando se está longe…
A memória ofusca a beleza desta cidade.
Meu senhorio é um casal angolano que fugiu da guerra. Durmo neste quartinho em forma de trapézio; o teto é inclinado, só posso ficar de pé quando me aproximo da mesinha encostada na parede da janela. Almoço por aqui mesmo, num bistrô da Rue de la Goutte-d’Or, ou do Boulevard de la Chapelle, a caminho do metrô; depois atravesso a cidade para dar aulas particulares, na hora do rush desço na estação
Châtelet, ganho uns trocados com a voz e o violão, e volto a Aubervilliers depois das dez da noite, quando os dois angolanos dormem. Ele é porteiro de um hotelzinho do bairro, e a mulher está desempregada. Conversam pouco comigo, sempre em português, e entre eles falam em quimbundo.
Hoje acordei assustado, levantei para beber água e bati a cabeça no teto baixo. Manhã escura, meu mau humor cresceu com a lembrança do sonho.
De noitinha, fui ver Julião e Anita num café do Boulevard Arago. Julião me deu uma caderneta de capa verde, manchada, folhas enrugadas. Li na primeira página um poema de Ox e tentei decifrar os garranchos das outras.
“Meus últimos dias no Brasil, Martim. A debandada geral, cara… Lúcifer solto na Pauliceia. Não quero guardar a porra desse diário. Se eu reler esses rabiscos, vou sentir mais saudade dos amigos, da escola de samba e da Vila Madalena. A saudade destrói e seca o coração.”
“Eu também fiz anotações”, disse Anita. “Acho que esqueci a caderneta em São Paulo, na casa do Ox. Eu tinha anotado a primeira noite com o Julião e outras coisas da nossa república na Vila Madalena.”
Quando Julião foi atender um cliente, Anita disse que ele estava desanimado com a vida em Paris. “Não sei se é o inverno ou a língua, Martim. Ele está aprendendo francês, mas ainda se atrapalha muito. Fala fazendo mímica, é o mímico deste bar. Os clientes se divertem quando ele gagueja em francês, faz mímica e diz baixinho: ‘Pardon, pardon’. Ganha uns trocados com o show, depois solta uns palavrões em português. No fim da noite, ele se lembra do Brasil e fica na fossa. Com tanta saudade assim, acho que vai adoecer.”
Rue de la Goutte‑d’Or, Paris,
2 de janeiro, 1978
“Você passou o Ano-Novo aqui, olhando a noite por essa janelinha?”, disse Damiano Acante.
Era o nosso primeiro encontro em Paris. Minha decisão de viajar para cá foi, em parte, influenciada por Damiano. Na nossa última conversa em São Paulo, ele me deu o número de um telefone parisiense e disse: “Você aluga um quartinho num bairro de imigrantes, Martim. Um teto provisório. Pode dar aulas de português e pagar o aluguel. No final de dezembro, quando eu chegar em Paris, arranjo um estúdio para você”.
Damiano ainda ficou uns dias em São Paulo, não sei qual foi o trajeto da viagem dele: as fronteiras por onde passou, as escalas até desembarcar em Paris. Um expatriado pode esquecer seu país em vários momentos do dia e da noite, ou até por um longo período. Mas o pensamento de
um exilado quase nunca abandona seu lugar de origem. E não apenas por sentir saudade, mas antes por saber que o caminho tortuoso e penoso do exílio é, às vezes, um caminho sem volta.
Ele mantinha a mesma expressão serena e misteriosa, a mesma voz sem alarde, só alterada quando dirigia os ensaios de uma peça. O rosto meio chupado estava ensombrecido por uma barba grisalha, que diminuía ainda mais os olhos pequenos. Não disse onde morava. Sentado no colchão, observou o teto inclinado da mansarda, depois olhou de relance os livros e cadernos na sacola de lona. Pegou um texto encadernado, deu uma folheada e perguntou: “Você guardou o Prometeu acorrentado? Será que vale a pena colecionar fracassos?”.
Em seguida se desculpou por não ter ido ao Royal Bar na semana passada: “Foi complicado deixar o Brasil, Martim. Complicado e arriscado”.
“Todos me deram bolo no Royal Bar”, eu disse.
“Todos, como?”
“Você e dois amigos de São Paulo: Julião e Anita. Trouxeram dinheiro de São Paulo e alugaram um estúdio na
Rue Daguerre.”
“Rue Daguerre é um lugar caro. Você pode alugar um estúdio num bairro mais barato, Martim. A proprietária é uma amiga francesa, uma companheira. O estúdio fica na Rue d’Aligre, a rua do mercado, ao lado da Place d’Aligre. O aluguel é uma pechincha: quatrocentos francos.”
Quatrocentos francos por mês: o valor de oito ou dez aulas de língua portuguesa. Pago sessenta por semana por um quarto em que mal posso ficar de pé.
“Vou dividir esse estúdio com alguém?”
“Não. É um estúdio pequeno, mas um pouco mais espaçoso que este canil. E tem um banheirinho.”
Colocou o texto de Prometeu na sacola:
“A embaixada de Cuba ajuda um pequeno grupo de exilados: o Círculo Latino-Americano de Resistência, Clar. Vamos imprimir um boletim de notícias e um tabloide. Você apenas nos ajuda a distribuir exemplares. De vez em quando um amigo brasileiro vai dormir no estúdio, mas por pouco tempo. Você tem medo de alguma coisa? O pior já passou, Martim. Sei o que você está sentindo. Tenho muitos contatos no Brasil, não desisti de procurar tua mãe.”
Última noite na Rue de la Goutte-d’Or, Paris, inverno, 1978
Minha mãe me esperava havia anos na casa de madeira de um sítio; perguntou por que eu tinha demorado tanto para encontrá-la.
Onde era esse sítio? Ipês floridos na paisagem ondulada, o céu e a luz do Planalto Central. Podia ser um sítio perto de Brasília, algum lugar no Distrito Federal ou em Goiás.
Queria ter perguntado: Quem demorou, mãe? Quem adiou nosso encontro?
Não disse nada no sonho, e fiquei remoendo meu silêncio.
Agora, acordado, é tarde demais.
Rue d’Aligre, Paris, março, 1978
Tirei da sacola a papelada de Brasília e São Paulo: cadernos, fotografias, cadernetas, folhas soltas, guardanapos com frases rabiscadas, cartas e diários de amigos, quase todos distantes; alguns perdidos, talvez para sempre.
Comecei a datilografar os manuscritos: anotações intermitentes, escritas aos solavancos: palavras ébrias num tempo salteado.
1.
Rue d’Aligre, Paris, março, 1978
Um artista, um pintor. Sabia apenas isso do homem que seduziu minha mãe. Em 22 de dezembro de 1967, ela saiu de casa e foi viver com o artista. Essa decisão inesperada, talvez intempestiva, me perturbou. Meu pai tinha certeza de que minha mãe voltaria, mas ela me disse que não o amava mais, e que nós dois e o artista moraríamos juntos.
Uma tarde meu pai me flagrou conversando com Lina, pegou o telefone e disse que era tudo uma vadiagem. De repente o rosto de Rodolfo empalideceu. “Como isso pôde acontecer? Onde você está morando? Você vai desgraçar minha vida? E o nosso filho?”
Sem me olhar, fez um gesto com a mão: que eu saísse do apartamento.
Do lado de fora, escutei a voz repetir: “Nunca mais, nunca mais…”.
Rodolfo não me contou o que Lina lhe havia dito, e essa conversa permanece secreta.
Morávamos num pequeno apartamento na rua Tutoia, minha mãe dava aulas particulares de francês no Paraíso, na Bela Vista, nos Jardins e na Vila Mariana; não queria depender do meu pai, um engenheiro civil, formado na Escola Politécnica.
Passei o Natal de 67 com Lina e tio Dácio no chalé dos meus avós maternos, em Santos. Minha avó Ondina e sua empregada Delinha prepararam peixe ao forno e um suflê de camarões e frutos do mar; Ondina se dirigia apenas ao marido, que sempre foi mais maleável que ela. Para meu avô, um temporal na Baixada Santista, uma greve dos portuários, uma criança perdida no mangue, um louco que aparecia nu no canal de José Menino, tudo estava nas mãos do destino. E foi ao destino que ele atribuiu a separação dos meus pais. Ondina não lhe deu atenção: falou da fraqueza moral e sentimental da minha mãe, das fantasias que nos castigavam. Eu ia elogiar o suflê, o peixe e os pastéis de nata, mas Lina se antecipou. “Não é fraqueza nem fantasia”, ela disse, amassando um guardanapo. “Não posso mais viver com Rodolfo… e nem quero falar disso na frente do meu filho.”
O fim da noite natalina foi fúnebre: Ondina saiu da mesa e avisou que não ia festejar o Ano-Novo. Escutamos passos no corredor, Delinha seguiu esses passos e as duas mulheres desapareceram. Meu avô, bem-humorado, sugeriu um passeio até o porto.
“Nessa escuridão?”
“Lá fora está menos escuro que nesta sala, Dácio. Parece que apagaram tudo aqui dentro. Martim vem comigo?”
Andamos pelas ruas do Macuco até o canal. As catraias estavam encostadas nas margens, a passagem do canal para o estuário formava um meio círculo escuro, parecia a entrada de um túnel tenebroso. Os vagões de carga estavam inertes na linha do trem; mais longe, os guindastes, empilhadeiras e armazéns eram formas quase indistintas. A ausência de marinheiros e de estivadores e a iluminação fraca no canal e no cais adensavam o silêncio no porto do Macuco, como se o mar tivesse secado na noite natalina. Contornamos a outra margem e, na travessia da pequena ponte sobre o canal, vimos dois corpos deitados numa catraia que oscilava na margem.
“Ondina não se conforma com a separação dos teus pais”, disse meu avô. “Nunca vai aceitar. Ela não devia se intrometer nessa história, mas a gente pode mudar a natureza de uma pessoa? Sei que Lina gosta de outro homem, Martim. Mas não é só isso. Você ouviu tua mãe dizer que
ela não pode mais viver com o teu pai. O destino dela está nessas palavras.”
Quando perguntei por quê, ele me abraçou, antes de dizer: “É difícil explicar. Um dia você vai descobrir os motivos”.
No chalé, todos dormiam; deitei ao lado da minha mãe e bem cedinho regressamos a São Paulo. Fiquei na rua Tutoia, e tio Dácio foi embora com minha mãe. Nesse dia, comecei a arrumar minhas coisas para morar com ela e o artista. Meu pai aproveitou o feriado para encaixotar os livros de engenharia e fazer a mala.
Ele ia se mudar para o nosso bairro ou para longe do Paraíso?
O homem estava ressentido demais para dizer uma palavra; era raro meu pai falar diretamente comigo: as palavras dirigidas a mim eram ditas a minha mãe, e agora não havia espelho nem anteparo às palavras paternas. Foi nesse quase mutismo que vivi a última semana de dezembro.
Na manhã do dia 31, minha mãe telefonou: que eu fosse ao apartamento do tio Dácio, nós íamos almoçar no centro.
Ele morava num quarto e sala na avenida São Luís; o quarto era um laboratório fotográfico, tio Dácio dormia na
saleta quase vazia, os livros arrumados numa estante de aço; nas paredes, fotografias em preto e branco de rostos de imigrantes portugueses, espanhóis, italianos, e o retrato de uma família num cortiço do Bexiga. Lina tentava vender essas fotos a suas alunas e aos clientes da Livraria Francesa; ela o visitava à revelia do meu pai, que reprovava o trabalho do cunhado:
“Largou a engenharia para ser fotógrafo marginal. Cedo ou tarde vai puxar carroça no centro de São Paulo e dormir num cortiço.”
Na última visita do tio Dácio à rua Tutoia, Rodolfo interrompeu uma conversa sobre poetas e fotógrafos, e disse que o progresso e a civilização eram um triunfo da engenharia. Tio Dácio negou essa frase com um sorriso irônico, depois disse que vários engenheiros, médicos e cientistas foram também grandes artistas. “Nossa turma da Politécnica estudou os cálculos do engenheiro e poeta Joaquim Cardozo. Você se interessou pela estrutura da Igreja da Pampulha, Rodolfo. Estudou a estrutura complicada da Catedral de Brasília. Niemeyer projetava e Cardozo fazia os cálculos estruturais. Os dois são artistas.”
Tio Dácio e meu pai tinham sido colegas na Politécnica; quando se diplomaram, meus avós e Lina subiram a serra para participar da festa de formatura, onde Rodolfo conheceu minha mãe, uma moça de dezenove anos que acabara o colegial e queria estudar literatura na usp, mas
Ondina a proibiu de morar na capital.
Como teria sido essa festa de engenheiros recém-formados, o primeiro encontro de Rodolfo com Lina, a ex-aluna do Stella Maris bailando com o jovem engenheiro, os dois vigiados por Ondina? Minha mãe subiu a Serra do Mar para casar e sair da casa dos pais, pensei, e eu sou filho desse baile de formatura.
Lá de baixo vem a algaravia do Marché d’Aligre, e no fim da feira surge na memória o resto da conversa de Dácio com meu pai.
“Poucos brasileiros conhecem o engenheiro-poeta Joaquim Cardozo, mas sem ele não existiria a Catedral, o Palácio do Congresso e outros palácios de Brasília.”
“Você jogou no lixo a carreira de politécnico, Dácio. Tira fotos de operários, imigrantes e biscateiros. Quem vai comprar essas porcarias?”
Dácio mirou o rosto do meu pai: o olhar parecia selar uma ruptura para toda a vida; e, quando Rodolfo foi embora, os dois irmãos ficaram sussurrando grandes segredos na sala. Talvez conversassem assim naquela tarde de 31 de dezembro, antes de eu entrar no apartamento da São Luís. Eu disse que estava pronto para sair da Tutoia, Rodolfo também se mudaria, eu não sabia para onde. Dácio e Lina se entreolharam: parecia que todos os rostos imigrantes nas paredes me examinavam com um olhar sofrido, mas não desorientado. Eu é que fiquei desnorteado quando Dácio afirmou à queima-roupa: “Você vai morar com Rodolfo em Brasília, Martim”.
O olhar de Lina devolvia minha apreensão.
“Brasília?”, repeti. “Com meu pai em Brasília?”
“Ele conseguiu um bom emprego numa repartição da capital. Quer viver longe da tua mãe. É mais fácil esquecer.”
“Fui ao Colégio Marista e conversei com o professor Verona”, disse Lina. “Ele já entregou para o teu pai os documentos da transferência e uma carta para o diretor do teu colégio em Brasília.”
Eu não podia morar com meus avós em Santos?
Minha mãe disse que Ondina era rígida demais, não admitia a separação, eu sofreria num ambiente hostil e seria pior para mim. Eu não podia viver com ela e seu companheiro por um motivo: dinheiro.
“E é também por isso que você não pode morar comigo”, acrescentou tio Dácio.
Os rostos imigrantes sumiram da parede, meu olhar um pouco turvo via traição no rosto da minha mãe. A falta de dinheiro era uma desculpa ou uma razão verdadeira? Essa pergunta não me veio à mente no último dia de 1967, quando as palavras se embrulhavam na minha cabeça, não
saíam da boca, e continuaram atropeladas no restaurante da praça Dom José Gaspar, onde eu almoçara outras vezes com Lina e meu tio. Ainda vejo as árvores altas e frondosas da praça, a Biblioteca Mário de Andrade e, ali perto, a Livraria Francesa, aonde Lina me levava nas manhãs de sábado em que meu pai ia ver um edifício em construção.
Eu e Lina mal tocamos na comida, nossas mãos entrelaçadas suavam debaixo da mesa, como se o medo e a angústia, ausentes nos almoços do passado, agora me ameaçassem. O amante da minha mãe chegou no fim do almoço: mais alto do que eu, moreno e magro, aparência desleixada; o rosto anguloso, expressivo e talvez astuto buscava nos meus olhos uma intimidade que eu recusava. Não toquei a mão estendida para mim, Lina me advertiu com o olhar, e eu me perguntava onde e como ela havia conhecido esse sujeito que nunca seria meu amigo. Dácio e ele ocuparam outra mesa, a voz do artista me irritava, tudo nele parecia insuportável, sentia a mão suada de Lina, e o meu sofrimento aumentava. O artista não demorou no restaurante: piscou para minha mãe e deu um adeus com um gesto breve e apressado. Lina largou minha mão e cobriu o rosto, tio Dácio nos acompanhou até a calçada e se despediu de mim. Pegamos um táxi para o nosso bairro, descemos perto da praça Santíssimo Sacramento e entramos na padaria Flor do Paraíso.
“Teu pai decidiu morar em Brasília”, ela disse, segurando e apertando minhas mãos. “Eu e o meu companheiro… nós nos apaixonamos, Martim. Você vai entender. Escreve para o endereço do teu tio. Brasília é uma cidade diferente, mas você vai gostar de lá.”
Quando ela ia me ver?
“Daqui a poucos meses, filho.”
Escutei uma voz meiga e um choro sufocado, depois senti o corpo da minha mãe: o abraço mais demorado e triste da minha vida de dezesseis anos.
Resenha/Comentário
Resenha do canal do YouTube Livrada! (04/02/18).
Trecho lido pelo próprio autor
Canal da Editora Companhia das Letras.
Entrevista com o autor
Entrevista concedida ao canal História da Ditadura.


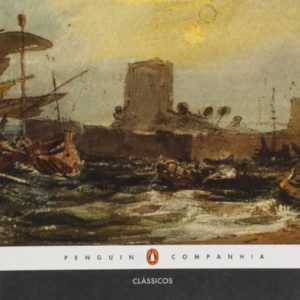

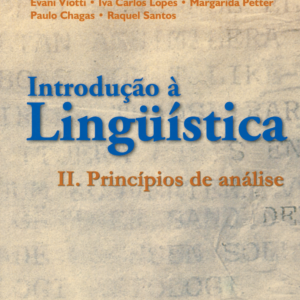

Avaliações
Não há avaliações ainda.